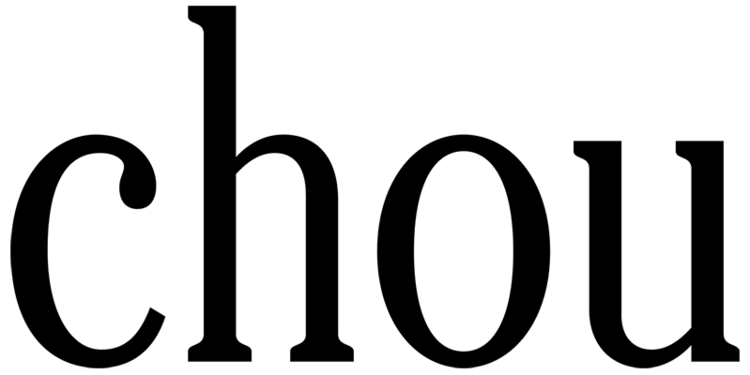Tenho muitas heroínas mulheres. Mulheres que me ensinaram a ver o mundo de outra forma, como a Mary Frances Kennedy Fisher, essa americana um tanto esnobe que cunhou a incrível expressão “solidão misantrópica e aconchegante” e me mostrou o quanto da fome e da nossa vontade de comer vem de lugares distintos do nosso estômago. Lugares como a dor pela perda de alguém amado, como o desejo inato em agradar e impressionar, como a solitude de uma viagem transatlântica. Suas palavras transformaram para sempre, para mim, o que é banal e cotidiano em algo sublime e nobre.
Marcella Hazan me ensinou a cozinhar, através de seus livros assertivos, engraçados, contundentes e do seu amor profundo pela cozinha italiana, pelos ingredientes verdadeiros e pela minúcia dos detalhes que fazem toda a diferença numa receita.
Foi ouvindo Eleanora Fagan, a quem o mundo conheceu como Billie Holiday, que descobri a doçura da tristeza e a dignidade do sofrimento. Entendi que a beleza é mais aguda quando um pouco áspera, quando um tanto machucada.
Foi lendo Karen Blixen que fiquei ofuscada pela força silenciosa que emana do respeito e da observação, da reverência pela natureza.
Mulheres fictícias também habitam o Olimpo das minhas ídolas. Com Úrsula Buendía, a matriarca centenária de Cem Anos de Solidão, senti o poder do trabalho infinito de uma única mulher, e o quanto do mundo ela suporta e faz girar com sua diligência incansável, com sua teimosia metálica.
Escritoras fantásticas como Silvia Plath, Ana Cristina César, Elena Ferrante, que arrancam das linhas universos inteiros, faíscas e estrelas.
E as mulheres do raio curto da minha vida, que tiveram tão ou mais impacto que as distantes. Minha mãe, minhas tias, mulheres corajosas, fortes como personagens da Ilíada; mulheresque fugiram da ditadura num fusquinha rumo ao Paraguai, sem qualquer outro auxílio que não o da própria beleza; que enfrentaram a ira de maridos violentos com brio e resiliência; que criaram filhos com altivez e sem qualquer rastro de subserviência. Que seguraram o seu amor nos braços enquanto ele morria em pleno voô de volta do exílio. Que desafiaram a polícia que invadia suas casas a procura das suas filhas. Que deslumbraram rapazes com suas saias rodadas em salões de bailes. Que sustentaram sozinhas suas casas, suas famílias.
Minha tia, militante feminista, senhora elegante e poliglota, tinha em seu escritório um carimbo com o qual eu brincava quando era pequena, multiplicando em páginas de sulfite as letras vermelhas, repetidas e repetidas vezes. Muitos anos depois eu ainda consigo me lembrar da fonte direta e simples que avisava, com igual medida de orgulho e humildade: MULHERES, SOMOS METADE DO MUNDO.